O que ensina a experiência internacional
Países mais avançados na adoção do Open Banking, como Reino Unido e Austrália, dão pistas do que se pode esperar no Brasil – e dos tropeços que devem ser evitados

A tecnologia digital está transformando o setor financeiro no mundo todo. Em alguns países, e também no Brasil, regras de promoção da competição são introduzidas pelas autoridades reguladoras.
Em outros, como os Estados Unidos, o movimento é mais orgânico – mas as mudanças não são menos profundas. A experiência internacional dá algumas pistas do que podemos esperar no Brasil.
O Reino Unido é mencionado por todos os envolvidos nas definições do sistema brasileiro. Analistas apontam Londres como a “capital mundial dos neobancos”.
As regras de compartilhamento começaram a entrar em vigor no país em 2018, e algumas tendências já são claras.
A primeira é o interesse pelos serviços de agregação. A estrutura do Open Banking permite conectar e operar contas de várias instituições em um único lugar.
Fintechs especializadas já atacavam os diversos produtos oferecidos pelos grandes bancos, um fenômeno batizado de “unbundling”, ou desagregação.
Com o Open Banking, começam a surgir os “rebundlers”, os apps cuja finalidade é organizar e centralizar as informações dispersas em vários provedores diferentes.
No Reino Unido, um dos expoentes desse modelo é o banco digital Revolut. Fundada em 2015 como um serviço de câmbio, a startup é hoje um símbolo de um novo tipo de instituição financeira, construída sobre a fundação do Open Banking.
Um dos grandes atrativos do Revolut são as ferramentas para gerenciar as finanças pessoais. Uma delas acompanha todos os pagamentos de serviços de assinatura, envia notificações das cobranças que estão para chegar e permite até mesmo o cancelamento de serviços.

Painéis de controle — como o Revolut ou seus concorrentes Monzo e Starling Bank — não significam que os britânicos tenham abandonado suas contas em bancos tradicionais britânicos como HSBC e Barclays.
Mas a economia digital também é a economia da atenção: quem oferecer o aplicativo com a melhor usabilidade e eficiência assume o controle dos relacionamentos e tem mais oportunidades de apresentar seus próprios produtos e serviços (o Revolut oferece cartões de crédito, contas corporativas e compra e venda de ações e criptomoedas).
Como o próprio nome sugere, o Revolut é um desafiante do status quo. Suas ambições são globais. O banco já tem licença para operar em dez países da União Europeia, está presente nos Estados Unidos há um ano e tem o objetivo declarado de ser “o primeiro superapp financeiro global”.
Ainda falta muito. O neobanco tem 15 milhões de clientes e ainda é deficitário. Mas os investidores estão confiantes. Em julho de 2020, a fintech recebeu um aporte de U$ 580 milhões, a um valor de mercado de US$ 5,5 bilhões.
Com acesso a capital e tamanho considerável, os neobancos já são um competidor de outra categoria, pelo menos para as startups. Mas, olhando um pouco mais de longe, negócios como o Revolut ainda não representam uma ameaça ao status quo.
Aprendizado
Uma ruptura, se houver, será gradual. Um dos motivos é a relativa lentidão na adoção do Open Banking. Depois de três anos, somente 3 milhões de britânicos (pessoas físicas e jurídicas) autorizaram o compartilhamento de suas informações dentro do sistema aberto.
Cerca de 300 instituições fazem parte do sistema, e outras 450 estão com os preparativos adiantados, segundo o Open Banking Implementation Entity (OBIE), organização independente responsável pela implementação do sistema aberto.
Além do fator novidade, a complexidade técnica de unir numa rede comum todo tipo de instituição financeira não é trivial. Reino Unido e Austrália tiveram de passar por um período inicial de ajustes até que tudo estivesse funcionando direito – e com segurança.
Em janeiro do ano passado, o órgão regulador australiano adiou o início da operação do sistema aberto em seis meses, alegando a necessidade de mais testes para garantir segurança e privacidade.
No Reino Unido, um empecilho importante tem a ver com a regra. A autorização para compartilhamento das informações tem de ser renovada a cada três meses.
A intenção era garantir aos clientes um controle mais estrito de suas informações, mas o efeito foi inverso: muitos dos usuários que mais tiravam proveito de agregadores, por exemplo, ficam desanimados ao ter de renovar o consentimento com tanta frequência.
Em ambos os casos, as lições foram aprendidas no Brasil. De acordo com as regras brasileiras, a autorização de acesso tem validade de um ano. E todo o desenvolvimento tecnológico pode ser aproveitado, pois os códigos usados aqui são abertos e embutem as atualizações feitas em outros países.
Open tudo
Será que essa adoção relativamente lenta por parte dos britânicos não vai se repetir aqui? “Essa é a pergunta de US$ 1 milhão: como as coisas vão se desenvolver”, diz João André Calvino Pereira, chefe do departamento de regulação do Banco Central.
“Acredito que os dois países tenham diferenças relevantes. No Reino Unido, não existe tanto questionamento em relação a taxas de juros e tarifas”, afirma Pereira.
Ele também afirma que os brasileiros são conhecidos pela adoção rápida de novas tecnologias – e a pandemia do coronavírus acelerou a digitalização de vários aspectos de nossa vida.
Pereira e os demais envolvidos no projeto do BC observam que o escopo a ser implementado no Brasil é muito mais amplo do que o britânico.
Os serviços bancários tradicionais são apenas o início. Depois vêm outros produtos financeiros, como seguros, investimentos e operações de câmbio. Muitos – incluindo o próprio presidente do BC brasileiro, Roberto Campos Neto, já se referem ao sistema aberto usando um termo mais amplo: Open Finance (leia a entrevista com Campos Neto).
Mas alguns países, como a Austrália, vão além e enxergam um futuro “open tudo”. Assim como o Brasil, o país aprovou uma legislação que dá aos usuários o direito de fazer o que bem entenderem com seus dados.
A primeira aplicação prática acontece no setor bancário, mas o governo australiano pretende estender a experiência para setores como energia elétrica, telefonia e internet.
A ideia é “permitir que consumidores e empresas tenham mais facilidade para comparar e trocar seus planos e provedores de energia”, segundo um comunicado dos ministérios da Economia e da Energia.
Na Austrália, os consumidores têm mais de uma opção para o fornecimento de eletricidade. A expectativa é que o compartilhamento dos perfis de uso aumente a competição pelos clientes.
“Dar aos consumidores mais acesso e controle sobre seus dados significa mais conveniência e ofertas sob medida”, diz a Australian Competition and Consumer Commission, órgão governamental responsável pelas regulamentações relacionadas ao compartilhamento de informações pessoais.
O apetite das big techs
Tudo o que fazemos online deixa um rastro digital, e ninguém tem um retrato mais completo de nossa vida na internet que as grandes empresas de tecnologia.
Enquanto as autoridades americanas estudam maneiras para conter o poder excessivo das big techs, no resto do mundo elas avançam também na vida financeira das pessoas.
O evento que determinou a explosão da digitalização das finanças indianas foi um pouco diferente do que se vê no Ocidente. Em 2016, numa tentativa de conter a corrupção, o país tirou de circulação as cédulas de valor mais alto.
Aliada à uma infraestrutura aberta de transferência entre contas – comparável à do Pix no Brasil –, a medida precipitou uma explosão das carteiras digitais.
Na prática, os indianos usam seus celulares para fazer todo tipo de transação, até mesmo para pagar vendedores de rua. E entre os aplicativos mais utilizados estão Google Pay e Amazon Pay. A local PhonePe, outra das líderes, pertence ao Walmart.
Pereira, do BC, tem dúvidas em relação ao apetite das gigantes do Vale do Silício. “As big techs são a porta de entrada [da vida online]. Todo mundo está no WhatsApp, todo mundo pesquisa no Google, todo mundo tem Instagram”, diz Pereira. “Eles entendem muito da experiência do cliente. Eles querem fazer a parte financeira? Mais ou menos.”
Um dos motivos apontado por ele é o possível conflito de interesses com os próprios bancos e fintechs. Google e Amazon são líderes no fornecimento de serviços de computação na nuvem.
Outra explicação são as amarras legais. “Esses caras não gostam de ser regulados”, afirma Pereira. Ele menciona as transferências de dinheiro oferecidas pelo WhatsApp (que pertence ao Facebook) desde maio.
“Eles tiveram de criar uma empresa de iniciação de pagamentos, autorizada pelo Banco Central e sujeita a regras.”

O sistema do WhatsApp gira dentro da plataforma da Cielo e é baseado em acordos com terceiros. Esse modelo de parcerias, acredita Pereira, é o mais provável.
Por enquanto, os pagamentos via WhatsApp precisam ser feitos com cartões, mas poderão ser feitos diretamente, sem intermediários, a partir da fase 3 do Open Banking, prevista para entrar em vigor em agosto.
Também é importante lembrar que em países como Índia e China a tecnologia digital representou “pular a fase” da bancarização tradicional.
O superaplicativo chinês o WeChat tem 1,25 bilhão de usuários e é de longe a principal plataforma online do país. Com o acesso a essa enorme base, a empresa passou a oferecer todo tipo de serviço financeiro, de pagamentos a crédito.
A ausência de agentes reguladores fortes também é parte da explicação para a dominação das big techs chinesas – e ajuda a entender por que os britânicos estão muito mais adiantados que os países do continente europeu.
A European Payment Services Directive (conhecida pela sigla PSD2) serve como base legal para iniciativas de Open Banking, mas o Reino Unido foi o país que impôs prazos e criou uma estrutura para definir regras e parâmetros técnicos.
Nos outros países da União Europeia, “são milhares de bancos, sem uma instituição central tentando implementar o Open Banking, sem uma infraestrutura comum”, disse John Borxis, diretor da entidade Open Banking Europe.
Esse risco não existe no Brasil. Apesar da revisão de alguns prazos, os entrevistados pelo InfoMoney foram unânimes em reconhecer que a agenda competitiva do BC é inequívoca.
Todos estão de olhos nas cenouras – e sabem que o chicote também pode estalar.




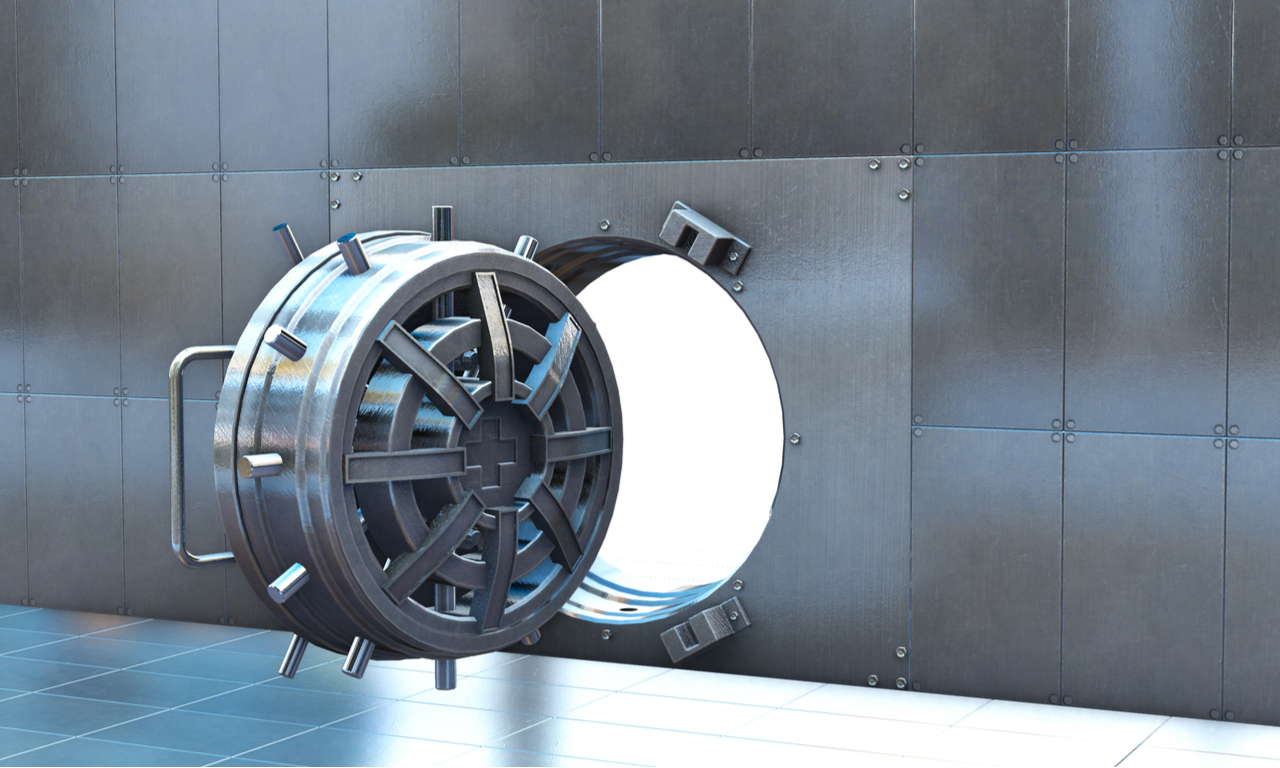

You must be logged in to post a comment.